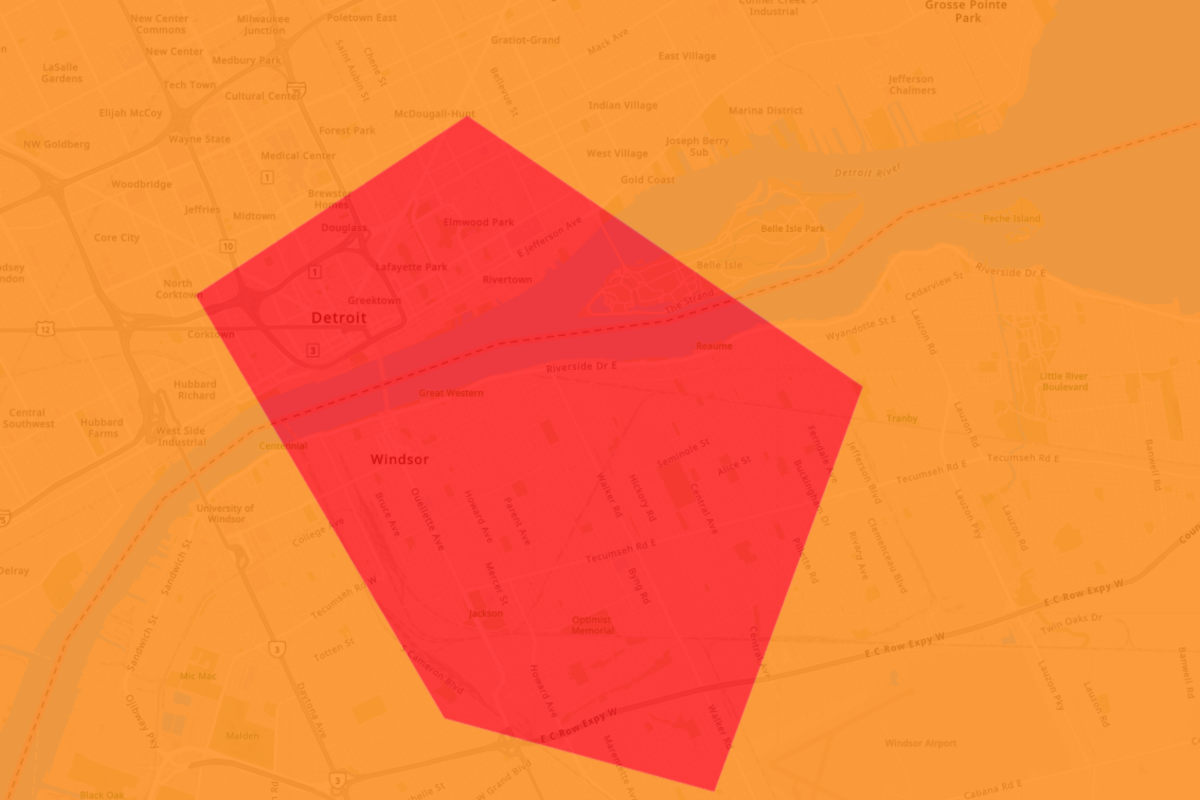Dadas as sobreposições e ecos narrativos, poderíamos muito bem afirmar o óbvio: “Rose” de Markus Schleinzer funciona como uma espécie de prima germânica distante de “Boys Don’t Cry”. Ambos os filmes contam histórias verdadeiras de estranhos designados como mulheres ao nascer que se apresentam como homens, que chegam a novas cidades onde rapidamente encontram amizade e comunidade. Em cada caso, estes laços não conseguem resistir à força do policiamento de género, conduzindo a fins trágicos moldados por preconceitos semelhantes. Mas os dois caminhos diferem em tensão.
Enquanto os vencedores do Óscar dos anos 90 e 90 de Kimberly Peirce procuravam galvanizar o aqui e agora – o seu pathos concebido, pelo menos em parte, para provocar indignação e impulsionar a cultura – Schleinzer olha para trás, destruindo os costumes e expectativas modernas através de uma luz severa e estranha.
Situado na Prússia do século XVII e com estreia na atual Berlim, o filme de Schleinzer resiste a uma simples tradução moderna. Conforme sinalizado pelo título, por uma narração que usa consistentemente pronomes femininos e pela própria admissão da personagem, “Rose” segue uma mulher que vê a forma mais imediata e evidente de libertação na performance de gênero. “Há mais liberdade nas calças”, diz ela sucintamente.
Mesmo assim, Rose (Sandra Hüller) é uma mulher de poucas palavras (para maior clareza e de acordo com o enquadramento do filme, manteremos os pronomes femininos). Ela encontrou a liberdade como soldado na Guerra dos Trinta Anos e levou um tiro no rosto no processo. A lesma agora está pendurada em uma corrente em volta do pescoço, logo abaixo da longa cicatriz ao longo da bochecha esquerda, deixando-a com um leve e permanente meio sorriso. Numa época de reconstrução, e com a sua bravura de guerra claramente gravada no seu rosto, poucos na aldeia a questionam quando ela chega para reivindicar a casa de fazenda de um camarada caído.
Também entendemos Rose através da ação – ou da falta dela. Ela fica parada e em silêncio enquanto um urso preto saqueador vagueia por perto, usando o silêncio como escudo e se escondendo à vista de todos. O perigo passa com as estações, trazendo prosperidade, integração e novos riscos. A liberdade de Rose tem um preço: a expectativa de forjar laços económicos mais profundos com a sociedade através da troca de propriedades conhecida como casamento. Aqui, os contratos de casamento comprometem dois empresários consentidos, que têm a noiva como garantia – e embora Rose originalmente vestisse calças e amarrasse os seios para escapar deste sistema de bens móveis, o seu abandono (bastante literal) agora traz consigo a expectativa de que ela o aceite.
Num ritmo acadêmico, mas nunca lento, “Rose” se desenrola com a mesma deliberação comedida do personagem principal. Schleinzer exige – e recompensa – atenção cuidadosa, revelando reviravoltas narrativas e dilemas morais com silenciosa precisão. Através de planos estáticos rígidos em tons de carvão e cinzas, ele constrói um campo minado ético com precisão de época, permitindo-nos habitar o terreno desconhecido antes de nos confrontar com cada novo desafio aos códigos modernos. Intelectualmente, o filme é o mais envolvente possível.
O filme se mostra particularmente ágil com a esposa de Rose. Suzanna (Caro Braun) entra na casa como propriedade, transformando-se sutilmente em uma bomba-relógio sob a expectativa social e contratual de que em breve engravidará – e mudando novamente quando realmente o fizer. Sem exagero ou qualquer virada para o realismo mágico, sua gravidez surpresa parece uma piada sombria, dado o instrumento estéril que Rose usa para seguir em frente, e assume um peso muito sombrio quando nos lembramos da ânsia de seu pai em garantir-lhe um leito conjugal.
A sugestão sombria – nunca pronunciada e ainda mais poderosa por isso – transparece na simples reverência de Hüller, um dos muitos gestos sutis em outra performance impressionante. Quase nunca fora da tela, Hüller – e Braun, que tem menos tempo de tela, mas não é menos impressionável – navegam em situações desconhecidas com escolhas e reações pequenas e precisas que atravessam o período deliberadamente alienante, proporcionando uma energia emocional que parece atual e identificável.
Tal imediatismo é ainda mais notável dada a sensibilidade do cineasta. Schleinzer, por sua vez, olha ainda mais para o passado, encenando grande parte da conclusão do filme em referência visual direta à obra-prima muda de Carl Theodor Dreyer, “A Paixão de Joana D’Arc”. Muito antes de sua santidade – e de sua canonização cinematográfica – Joana D’Arc foi executada por inconformidade de gênero. Esse fato pode ser inconveniente para aqueles que desejam santificar velhos preconceitos. Schleinzer mantém isso bem à vista.